Por Joaquim Dantas
Duas da madrugada. Duas e dezessete, para ser mais exato. Hora difusa. Acho que uma parte das pessoas provavelmente imagina esse horário como sendo um amontoado intransponível de sombras, sono e silêncio. Mas isso não é verdade. Nós, os habitantes do ocaso, sabemos que há muito a madrugada deixou de ser um lugar de escuridão irresoluta. No coração da noite, há sempre alguma iluminação a se esgueirar pelas frestas. Eletrônica, fria, distante, a claridade noturna é opaca mas onipresente, advinda de lugares indefiníveis e vertida sempre através – da sujeira das janelas, do vão no pé da porta, fendas ao redor da casa. Indicadores de standby, notificações em smartfones, faróis de um carro bêbado que passa à distância, o brilho etéreo das câmeras de segurança. Desde a invenção da luz elétrica, a escuridão deu lugar a um eterno lusco-fusco, paradoxalmente mais misterioso que o breu completo, estranhamente mais fantasmagórico que a inviolável obliteração. Duas da madrugada – duas e dezessete, para ser mais exato: hora difusa.
Nenhum outro filme de Horror anunciado para 2025 capturou de mais intensamente minha empolgação do que A Hora do Mal. Minha antecipação não se deu por causa dos enigmáticos teasers iniciais ou dos trailers posteriores, mas sim porque essa seria a mais nova investida de Zach Cregger, cineasta por trás de um dos melhores filmes do gênero nos últimos 25 anos, Noites Brutais (2022). Acho que todo mundo que é obcecado por Cinema – e particularmente por Cinema de Horror – sempre acaba se agarrando às vozes originais e disruptivas que surgem no arcabouço do gênero. Às vezes a gente quebra a cara, claro, como foi o caso com o Nosferatu[1] do Robert Eggers e com tudo que o Ari Aster produziu pós Hereditário (2018). Ainda assim, contra nosso próprio senso de autopreservação, persistimos, nos agarrando a ínfima possibilidade de esbarrar e acompanhar em tempo real a produção de uma nova leva de autores estetas, como a que tivemos, por exemplo, nos anos 1970 e 1980. Seriam Peele, Rugna[2], Perkins, Cosmatos[3], Cregger nossos novos monumentos? Essa eterna busca pela renovação do panteão de mestres absolutos é tão dolorida quanto inescapável.
Mas se a expectativa é mesmo a mãe da decepção, ela também pode ser, às vezes, ainda que raramente, o som certeiro que anuncia uma explosão de fúria estética – e A Hora do Mal é um desses rasgos violentos de gênio no horizonte das probabilidades. Ainda nos primeiros minutos, antes mesmo do sugestivo título[4] iluminar a tela, as várias camadas – narrativas, estilísticas e temáticas – do filme já se insinuam, em uma série de concatenações tão perfeitas quanto enigmáticas.
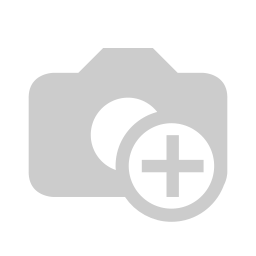
Da escuridão, ouvimos uma voz infantil narrando os eventos motivadores da trama. Um dia, às 02h17min da madrugada, as crianças da turma da professora Justine Gandy (Julia Garner) se levantaram de suas camas, desceram as escadas, saíram pela porta da frente e, em absoluta sincronicidade e postura idêntica, desapareceram na ambiguidade crepuscular. No momento exato em que essa montagem de cenas começa – em imagens que saltam de casa a casa, rua a rua, criança a criança, oscilando entre a tintura esverdeada das câmeras de segurança e os tons opacos da madrugada –, ouvimos o ressoar magnético de uma das canções mais etéreas da discografia de George Harrison: “Beware of Darkness”. A sobreposição dessas imagens, profundamente modernas em seus contornos límpidos e timbre tecnológico, e o som granulado da década de 1970, na instrumentação orgânica, no estilo há muito perdido e na voz quase solene quase lamento do ex-Beatle forma um monólito estético tão poderoso, sugestivo e enigmático, tão prenhe de significado e atmosfera, que, se o filme acabasse aí, já seria um dos mais disruptivos que o Cinema conjurou em 2025. Vale salientar que, se escutar a atentamente, você vai perceber que o filme é quase como se fosse uma transliteração da música para a mídia cinematográfica, transformando em atmosfera visual e alegorização narrativa o que a voz e a guitarra de George vertem em harmonia, palavra e melodia. Golpe de gênio!
Mas esse senso assombrado de desconforto e ambiguidade – Para onde foram as crianças? Que força as conjurou? Como enxergar através dessa luz difusa que engolfa a madrugada? – não termina quando as últimas notas da canção se dissipam. Esse é o tom absoluto do filme, é a estrutura estético-temática fulcral sobre a qual Cregger orquestra toda a fibra de seu texto.
Desde o início da trama, o diretor deliberadamente enfoca as cenas a partir de pontos de vista elegantemente enervantes. Ombros, nuca, costas, sombras; a lateral dos rostos, quase nenhum close-up, isso é muito do que vemos. Ao nos colocar nessas perspectivas, o filme nos força ao ar da dúvida, da perseguição, de um desconfortável voyerismo. Escutamos as últimas passagens do relato em voice over – sobre a investigação policial, os interrogatórios com Alex (Cary Christopher), único garoto que não participou da fuga, e com a própria professora – enquanto acompanhamos a senhorita Gandy através dos corredores da escola. Eventualmente descobrimos que ela se dirige a uma reunião, entre pais e docentes, para discutir – ou seria julgar? Ou ainda: condenar – a problemática situação do desaparecimento das crianças. Cabelos curtos, voz contida, tipo diminuto, a escolha da atriz Julia Garner é certeira. Sua fisicalidade e comportamento fazem-na vibrar como um animal pequeno e acuado, ameaçado pela horda de brutamontes que a rodeiam. Liderando o grupo dos que gritam, temos o sempre excelente Josh Brolin – com uma corporeidade muscular que contrasta radicalmente com a de Garner. Brolin interpreta Archer, pai de uma das crianças e outra peça central da narrativa.
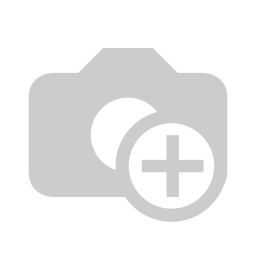
Assim se configura o tableau fundamental: o estranho desaparecimento, a indignação revoltada, a perseguição da professora. Trata-se do jogo de poder físico e de força simbólica, do discurso que condena antes dos fatos, do senso geral de incertezas e das forças sinistras que pairam.
Daí em diante, o filme se arma em uma estrutura fragmentada, em capítulos centrados ao redor de personagens: ora sobre os ombros de Justine, ora sob a ótica de Archer; ora acompanhando Paul (Alden Ehrenreich) (um dos policiais envolvidos marginalmente na investigação), ora perambulando com James (Austin Abrams) (um squatter adicto que, de início, parece completamente desconectado da trama); ora pelo viés de Marcus (Benedict Wong) (o diretor da escola) e, finalmente, adentrando a realidade do pequeno Alex. Variando os pontos de vista conforme se desenvolve, indo e voltando no tempo narrativo e até mesmo adentrando a surrealidade dos pesadelos, o filme nos mantém em constante estado de ambiguidade. Ao contrastar a realidade a partir desses olhares sempre outros, Cregger nos força a avaliar e reavaliar as ações das personagens, jogando novas luzes – e quase sempre também novas trevas – sobre os eventos que constituem essa trama em retalhos. Ou seja: a partir de um intrincado jogo metalinguístico, em A Hora do Mal, a própria estrutura narrativa, assim como as discussões temáticas, se comporta como a luminosidade crepuscular através da qual se vertem seus eventos: sombra e mistério.
Mas esse filme não é só uma narrativa brilhante de Horror; é também uma problematizante alegoria sobre a cultura bélica na atualidade. A pergunta central desse jogo metafórico se condensa no título: quem – ou quais – são as “armas” de que se fala aqui?
Desde Columbine, não é difícil estabelecer a horripilante equação entre balas e crianças nos EUA. Com sua complexa alegoria fragmentária, Cregger força o expectador à reflexão, fazendo confluir e confrontar as principais peças dessa questão: a criança, a família, a escola, a polícia – e, aterrorizantemente, as sombrias forças exteriores. O filme retrata o desaparecimento de um grupo de crianças, de dentro de suas próprias casas, e, de algum modo – tão absurdo quanto contraintuitivo –, a sociedade atribui à professora o papel central. Os pais, eximindo-se de qualquer responsabilidade – afinal de contas, como poderiam ser eles os responsáveis pelos próprios filhos? –, desde o início elegem a suspeita em preferência. A escola, ao invés de defender sua docente, escolhe rapidamente se afastar de qualquer polêmica – é preciso manter a empresa aberta, a imagem limpa e os negócios funcionando. Já a polícia, de algum modo incompreensível, ignora as pistas latentes que se apresentam – é sério que ninguém reparou em nada durante os depoimentos e investigação? –, focando-se, ao invés disso, em problemas internos e falsas questões sociais. Não, não... diante desse cenário, a conclusão inescapável é: cacem a professorinha. É uma lógica tão razoável quanto à demonstrada em Monty Python em busca do cálice sagrado (1975) na determinação de como identificar uma bruxa[5]!
E há ainda isso: a misteriosa imagem das bruxas em A Hora do Mal.

Justine passa a trama toda perambulando pela cidade com uma pixação a estampar seu carro: bruxa. O filme também antropomorfiza essa ideia em uma perturbadora criatura – de caracterização tão sutil quanto as brotadas do “bom gosto” de John Waters –, sobre a qual, para evitar spoilers, não me deterei aqui. Ao invés disso, retorno ao início do texto e chamo atenção novamente para o horário: 02h17min. Em inglês, existe uma expressão que, por associação semântica, parece ser sugerida aqui: the witching hour – a hora das bruxas. No entanto, essa hora assombrada é sempre demarcada em dois momentos específicos: a meia noite ou às três da manhã. Portanto, é de maneira proposital que o filme escolhe desviar dessa numeração simbólica, nos sugerindo, ao invés disso, a contundente imagem do erro. É como se Cregger postulasse: nessa moderna caça às bruxas, assim como o foi em Salém, há tortura, julgamento e condenação; há armas e punhos em riste; há um bocado de ódio e culpa... só não há bruxas.
Ou talvez existam – mas certamente não de maneira simples ou maniqueísta. Com atitude provocadora e poder alegórico, A Hora do Mal escolhe nos deixar suspensos em uma pergunta: se não são as armas que matam, como afirma o ditado, mas sim as pessoas armadas, de quem então são os dedos, irresponsáveis e repugnantes, que andam a puxar gatilhos?
Como diria George: Beware of Darkness...
[1] Tem resenha aqui sobre esse danado também: https://veneta.com.br/blog/cinema-7/ha-algo-de-podre-no-reino-da-transilvania-483 .
[2] Do absolutamente genial Quando o mal chega (2023).
[3] Dos espetacularmente bizarros Além do arco-íris negro (2010) e Mandy: sede de vingança (2018).
[4] Em inglês, “Weapons” (armas), o que faz infinitamente mais sentido na narrativa, temática e alegoricamente, do que o nome toscamente escolhido para estampar os cartazes no Brasil, “A hora do mal”.
[5] Parafraseando o clássico quinquagenário: O que fazemos com bruxas? Queimamos. O que mais queima? Madeira. Madeira boia na água? Sim. O que mais boia na água? Um pato. Portanto – logicamente –, se uma mulher pesar o mesmo que um pato ela é feita de madeira e, consequentemente, uma bruxa!
Joaquim Dantas é responsável pelo Selvagem Podcast, junto de Juscelino Neco, disponível em todos os agregadores.
